A escritora Djamila Ribeiro usou sua coluna na Folha para dar uma resposta à declaração do CEO do Itaú, Milton Maluhy Filho, de que será rachado por todos o prejuízo causado pelo Banco Master ao mercado financeiro, inclusive fundos de pensão de funcionários públicos que investiram na arapuca engendrada por Daniel Vorcaro e sua quadrilha.
O texto é sensacional e merece ser lido na íntegra.
Li, na última semana, a entrevista concedida pelo CEO do banco Itaú, Milton Maluhy Filho, a esta Folha, na qual o executivo reflete sobre o Banco Master. É sobre o conteúdo dessa entrevista que me ocupo neste texto.
Como é de conhecimento público, o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central no fim de 2025. Faço parte do imenso contingente da população que jamais havia ouvido falar da instituição antes da repercussão do caso, quanto mais de seu banqueiro.
Sou uma mulher negra, filha de trabalhadores que nunca tiveram herança, dividendos ou "mesadas". Sou alheia aos contextos sociais nos quais esses acordos foram firmados. E pouco importa a renda que eu venha a ganhar em minha trajetória; sei que pessoas como eu —mulher, negra e independente— jamais farão parte do círculo masculino e branco. Não se trata apenas de classe social.
Na entrevista, o executivo afirma que a recomposição do fundo utilizado na liquidação do Master terá um custo para a sociedade como um todo, pois impactará o preço dos instrumentos financeiros como forma de compensação. Segundo ele, "um evento dessa magnitude, no final do dia, acaba gerando um impacto para a sociedade no custo de captação de novos empréstimos, no preço dos investimentos. Essa conta vai ser paga. Esse dinheiro ‘desaparece’, mas sai de outro lugar depois".
Com todo respeito, não podemos concordar com a naturalidade dessa afirmação. Compreendo que, por um prisma trágico, ela possa se mostrar verdadeira: é bastante provável que, mais uma vez, a conta recaia sobre o povo, que nada teve a ver com isso.
Mas, em um país sério, essa transferência não deveria ocorrer. É preciso disputar os sentidos, porque, quando se sugere que a alternativa ao "alívio" dos bancos será o encarecimento do crédito, não se descreve uma lei da economia, mas tão somente se assume um posicionamento político antipopular.
Em um país sério —ainda que hoje soe quase utópico dizê-lo—, numa situação como essa, a conta seria paga, sim, mas pelos bancos. Apenas o maior deles, representado pelo senhor Maluhy Filho, lucrou cerca de R$ 46 bilhões no último ano, enquanto a chamada sociedade é formada por pessoas cada vez mais empobrecidas.
Em uma perspectiva mais ampla, a conta pertence ao sistema financeiro que operou direta ou indiretamente com o Master. São essas instituições —brancas, é preciso dizer o óbvio— que se sentam à mesa, brindam e se esbaldam. Foram elas que apoiaram e financiaram quadros da política econômica responsáveis por ignorar alertas sucessivos. O povo negro, indígena e migrante, em regra, cozinhou, serviu, limpou o chão e os banheiros. Deve agora pagar o prejuízo da farra?
Sem falar nos aposentados e nos fundos de previdência comprometidos —tema que merece outra coluna. O que nos interessa aqui é perceber que a sociedade abstrata, evocada sempre que o prejuízo aparece, inclui quem vive de um salário mínimo corroído por juros bancários. Inclui a mulher cuja renda familiar foi pulverizada por apostas online absurdamente legalizadas.
Assim, um artifício retórico poderoso entra em cena: diluem-se responsabilidades concretas em um coletivo indistinto (a sociedade) onde cabem, lado a lado, executivos da Faria Lima e quem jamais teve contato com um CDB.
Mas, se os bancos acumulam lucros bilionários ano após ano em uma atividade de risco, se o fundo de garantia é financiado pelas próprias instituições financeiras para mitigar esse risco, se empresas de investimento embolsaram comissões ao distribuir papéis problemáticos do Master, por que a recomposição deve ser tratada como um trauma coletivo? Em que momento se decidiu que os ganhos permanecem concentrados, enquanto as perdas precisam ser difusas?
A defesa do povo trabalhador deste país passa, inevitavelmente, pelo papel do órgão regulador —e cabe perguntar se o temos. Um Banco Central deveria existir, entre outras coisas, para assegurar a responsabilização das instituições financeiras e impedir, com fiscalização, interferência, se preciso, e eficiência, que os custos da esbórnia sejam repassados à população. É isso que faria dele uma instituição autônoma, independente e de Estado.
Curiosamente, a retórica da responsabilidade só surge após o desastre. Agora se fala em curadoria, revisão de regras, prevenção de abusos. Tudo correto e tardio. Antes disso, o sistema funcionou como planejado, premiando quem assumiu riscos excessivos enquanto eles foram lucrativos.
Talvez o incômodo causado pelo conteúdo da entrevista venha daí: ele revela mais sobre a expectativa de que, como sempre, alguém pague a conta sem nem sequer ter sido convidado para a festa.
https://whatsapp.com/channel/0029VbBsQ5SLI8YSFXsdg92o
Apoie


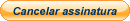


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou? Comente. Encontrou algum erro? Aponte.
E considere apoiar o blog, um dos poucos sem popups de anúncios, que vive apenas do trabalho do blogueiro e da contribuição dos leitores.
Colabore via PIX pela chave: blogdomello@gmail.com
Obrigado.